“SUSPÍRIA – A DANÇA DO MEDO” – Revolucionária metamorfose
Dario Argento é um dos maiores nomes do cinema italiano clássico, com influência especial no giallo, gênero italiano literário e cinematográfico que transita entre o thriller e o horror. SUSPÍRIA – A DANÇA DO MEDO é mais que um remake de “Suspiria”, de 1977, dirigido por Argento (clique aqui para ler a nossa crítica do longa). Trata-se de uma homenagem que mostra que um bom original pode ser superado por uma cópia grandiosa.
A premissa é praticamente idêntica à película homenageada: Susie é uma jovem bailarina recebida em Berlim para dançar na renomada Companhia Markos de Dança. Destacando-se logo no início, ela chama a atenção de Madame Blanc, que a acompanha mais de perto. Com sua nova amiga Sara, Susie começa a descobrir os perigos que pode sofrer e que acometeram Patricia, dançarina que desapareceu quando ela chegou.

Susie é interpretada por Dakota Johnson, que consegue apagar a imagem ruim deixada em razão da franquia “Cinquenta tons”. Não que sua atuação seja fenomenal, porém o trabalho é significativamente superior, com destaque ao desempenho corporal nas cenas de dança (que são muito mais exploradas que no filme de Argento). Além das razões óbvias, a protagonista tem função central no plot para suspender o espectador sem abrir mão da coerência. Os flashbacks conseguem expor um pouco do backstory da personagem, mas também explicam muito da sua essência e explicam a resolução de seu arco dramático.
Na atuação, contudo, não surpreende a proeminência da musa do diretor do longa, Tilda Swinton. A atriz tem na produção um dos seus melhores trabalhos, vivendo mais de uma personagem. A principal é Madame Blanc (as demais não serão abordadas para evitar spoilers, bastando enaltecer a habilidade camaleônica de Swinton), que se beneficia do biotipo da própria atriz, cujo corpo esguio, enaltecido pelo cabelo comprido e pelo figurino esvoaçante, sugere sua aura sobre-humana. É instigante a relação da tutora com Susie, deixando no ar um instinto maternal ambíguo, substituindo a curiosidade inicial. Chloë Grace Moretz tem pouco tempo de tela, mas faz de Patricia uma moça explicitamente perturbada pelas bruxas (o elemento, por sinal, não é segredo na película). Jessica Harper faz um papel minúsculo como homenagem, enquanto Angela Winkler é desperdiçada em um papel (também pequeno, mas) unidimensional e Mia Goth faz apenas o básico como Sara.
O filme de 1977 teve roteiro escrito por Dario Argento e Daria Nicolodi. Já o de 2018 aproveita as personagens (e, a rigor, a essência do plot), mas é escrito por David Kajganich, que divide seu script em “seis atos e um epílogo”, anunciados logo no início. A homenagem à obra de Argento fica mais clara quando há referência às três mães (Trevas, Lágrimas e Suspiros) – que fazem parte de uma trilogia dirigida por ele -, porém não há profundidade na matéria que não seja para respaldar o assento sobrenatural. Sem dúvida, o roteiro é mais bem elaborado, repleto de simbologias, com novas camadas, maior complexidade e capacidade de convencimento. A narrativa aborda fenômenos paranormais para criticar grupos radicais (seitas) voltados a práticas que lesam terceiros (ou mesmo os integrantes também dedicados ao ocultismo). Não obstante, a mitologia é tão prolixa que se torna um pouco cansativa (também em razão da extensão do longa).
Luca Guadagnino oferece ao público uma obra sublime. Sua câmera é tão vívida quanto a de Argento (ou mais), com movimentações constantes que manipulam brilhantemente o espectador, conduzido por ângulos que saem do comum. A fotografia de Sayombhu Mukdeeprom não é de presença forte como a do clássico, preferindo cores dessaturadas, em especial o verde e leves tons terrosos, além de dias cinzentos, para criar uma atmosfera sombria e (literalmente) nebulosa. O horror da violência e do sangue dá lugar a uma opressão metafísica – quando vai para o físico, todavia, surge um intenso vermelho (no figurino das dançarinas e no filtro de luz da cena do clímax, que é maravilhosa).
Ainda no visual, a maquiagem, atribuída a diversos profissionais, é um show de transformações através de próteses. A montagem de Walter Fasano é excelente, merecendo menção a sequência de montagem paralela em que uma das dançarinas apanha enquanto Susie dança – o momento, aterrorizador, magnético, violento e com um toque de sadismo (há um sutil subtexto sexual na produção), beira a perfeição técnica.
Se há um quesito em que o filme de Guadagnino é inferior ao de Argento, é o design de som. A edição de som é muito boa nos ruídos macabros; a mixagem utiliza os ruídos diegéticos com competência para causar maior impacto, aumentando seu volume (como na sequência mencionada). Porém, mesmo considerando a qualidade dos agudos da suave trilha musical de Thom Yorke, ela não chega perto da memorável música-tema da banda Goblin. Ainda assim, em praticamente todos os aspectos, a película supera o original, que já era de alto nível. Guadagnino ensina que remake não é sinônimo de cópia, justificando uma refilmagem se a abordagem for, como no caso, inovadora. Cinema não é duplicação, mas ressignificação através da transformação. Com uma nova condução, um filme pode sofrer uma revolucionária metamorfose. Que outros realizadores aprendam a lição.
P.S.: outra lição de Luca Guadagnino é que terror bom não precisa ter jump scares. Os melhores não têm.
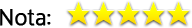

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

