“O PRIMEIRO HOMEM” – Um prodígio na direção
Algumas histórias transmitidas no audiovisual conseguem emocionar por si sós: são histórias comoventes, tocantes e cativantes. Outras, por outro lado, não têm potencial para emocionar o público sozinhas, carecendo da técnica para atingir esse objetivo. O PRIMEIRO HOMEM está no segundo grupo.
Trata-se do retrato dos anos precedentes à ida à Lua, com foco no protagonista óbvio, Neil Armstrong. Embora seu nome seja mundialmente conhecido – até por entrar na História -, sua vida é uma incógnita para a maioria das pessoas. A ideia do longa é justamente explorar não apenas o profissional, mas também o lado pessoal de Armstrong.

A película se passa na década de 1960 nos EUA, logo, como não poderia deixar de ser, tem um design de produção de época irrepreensível. É recomendável assistir ao filme, se possível, em IMAX, não tanto pela imagem, mas sim pela soberba trilha sonora que ele ostenta. A trilha musical ficou a cargo do premiado compositor Justin Hurwitz, em mais uma parceria com o jovem cineasta Damien Chazelle (a parceria foi profícua a ambos em 2017, com “La La Land”). A primeira metade é discreta nesse quesito, enquanto que, seguindo o ritmo do próprio longa, na segunda metade, as músicas são enaltecidas para evocar a grandiosidade da narrativa (geralmente usando instrumentos de corda, muito úteis para esse fim). Trata-se do uso da trilha musical com papel emotivo, mas também narrativo (“The landing” é bom exemplo), não raras vezes com função descritiva, com ou sem sincronia com a narrativa (no exemplo mencionado, a explosão sonora presente na canção, sem eliminar a melodia principal, é simplesmente brilhante).
O design de som é maravilhoso na trilha musical, bem como na edição e na mixagem. Naquela, alguns ruídos ausentes hodiernamente precisaram ser criados, em especial aqueles que as naves (ou foguetes) antigas faziam – assim como os carros, elas mudaram em todos os aspectos (como visual e de capacidade locomotiva, dentre outros). Por sua vez, a mixagem de som é perspicaz ao variar o que é sonoramente valorizado em cada momento, sem que a música atrapalhe os ruídos (ou vice-versa). O uso do silêncio, ainda, é sensacional para transmitir um alívio auditivo sem igual.
O roteiro de Josh Singer é provavelmente o pior aspecto da produção. O subtexto tem dois pilares: o primeiro é a corrida espacial, com o inimigo soviético passos à frente; o segundo, o alto custo da empreitada (não apenas financeiro). São dois temas que recebem atenção pontual, sem permear a narrativa de maneira impactante. Há ainda o problema de desconstruir uma história de conhecimento público, o que Singer não conseguiu vencer. Mesmo com todas as intempéries, todos sabem que Armstrong pisou na Lua. No aspecto narrativo, o texto é deveras singelo. Nesse sentido, o drama da filha do protagonista é frágil, parecendo um fantasma que o acompanha sem muito potencial ofensivo a ele (ainda que ele admita que “seria insensato pensar que [esse fator] não [afetaria o seu trabalho]”). Entre um filho que constantemente quer brincar com o pai, que nunca tem tempo, e uma admirável esposa que o apoiava sempre, a vida pessoal de Armstrong não é muito atrativa.
Sem a expressão de deboche que lhe é costumeira, Ryan Gosling se revelou uma escolha acertada para o papel principal, o que surpreende ao se considerar que o perfil da personagem é de um homem sério e pai de família (não um galã). Gosling consegue imprimir veracidade no choro e um eloquente olhar de deslumbre (superando a limitação interpretativa decorrente do capacete de astronauta). Partindo do retrato feito, Armstrong era um astronauta com os pés no chão – frio, calmo e muito racional -, o que lhe garantiu o sucesso profissional. A importância da sua família foi justamente mantê-lo com os pés no chão, notadamente sua esposa Janet, vivida muito bem por Claire Foy (em uma personagem de perfil bem distinto ao da Rainha Elizabeth II em “The Crown”, em que ela também é ótima). Ele se mostrou determinado; ela, implosiva (a cena em que ela exige que ele fale com os filhos é grata surpresa).
De todos os nomes envolvidos na produção, o que chama a atenção é Damien Chazelle. É verdade que o elenco altamente gabaritado (Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Ciarán Hinds, além de Gosling e Foy) ajuda no resultado final (embora possa ser um desperdício), mas o talento de Chazelle é espantoso. Ao contrário do que poderia se esperar, o cineasta usa bastante de closes e planos fechados e uma câmera muito ativa e movimentada, o que é fundamental para a imersão incomparável atingida pelo longa.
No quesito imersão, Chazelle é genial. No estilo “Gravidade”, a turbulência das naves é intensa e, aliada aos ruídos, gera um certo desconforto – é algo barulhento, balançando constantemente e que parece que vai explodir a qualquer momento (por isso o alívio no silêncio), onde o espectador fica junto do astronauta, ouvindo sua respiração ofegante e tremendo dentro da nave. O filme é tão imersivo que talvez não seja recomendável ao espectador mais sensível a imagens e/ou sons um pouco caóticos.
Com um tom épico coerente e uma duração ostensivamente exagerada (as quase duas horas e meia não se justificam), “O primeiro homem” é um excelente exemplar do cinema que ratifica a habilidade cinematográfica de um prodígio da direção, porém não empolga o suficiente para se tornar inesquecível (salvo nos EUA, onde o apelo nostálgico será um vento muito favorável).
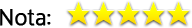

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

