“O MUNDO PERDIDO: JURASSIC PARK” – O perigo das continuações
Obs.: para ler a nossa crítica de “Jurassic Park: o Parque dos Dinossauros” (1993), clique aqui.
Depois de um sucesso estrondoso, como fazer uma continuação à altura? Conseguiria O MUNDO PERDIDO: JURASSIC PARK ser “O Império contra-ataca” da franquia jurássica? A resposta é negativa: o primeiro é superior ao segundo. Passados quatro anos da primeira aventura, os dinossauros criados por Hammond habitaram secretamente outra ilha, sem cercas, sem isolamentos e principalmente sem a interferência humana. Porém, quando ele perde o controle da sua empresa, InGen, seu sobrinho, novo CEO, está prestes a levar os dinossauros da ilha para a civilização. Procurando a redenção e reconhecendo os erros do passado, Hammond reúne um grupo para impedir o sobrinho – dentre eles está Ian Malcolm, que já tem experiência com dinossauros.
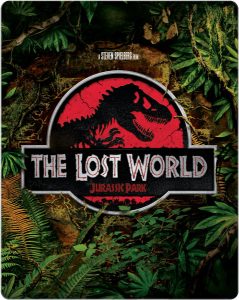 Embora seja continuação do anterior, contando inclusive com personagens repetidas, o longa muda muito – talvez até demais – a personalidade deles. John Hammond (Richard Attenborough, em uma participação minúscula) não é mais antropocentrista, tendo se transformado em um ecocentrista disposto a elidir a intervenção humana no Sítio B (ilha onde os dinossauros estão reclusos). Ian (Jeff Goldblum) é outro que se transformou radicalmente: participa da ação, é cauteloso, tenta ser responsável e censura homens que atuam em uma causa como pretexto para se aproximar de mulheres (o que demonstra na fala sarcástica dirigida a Nick, fotógrafo vivido razoavelmente bem por Vince Vaughn). Percebendo que era um papel diferente, mas com o mesmo nome, em uma sequel, e interpretado pelo mesmo artista, Goldblum imprime maior seriedade a Ian, abandonando o jeito descontraído e focando apenas em duas mulheres: sua namorada e sua filha.
Embora seja continuação do anterior, contando inclusive com personagens repetidas, o longa muda muito – talvez até demais – a personalidade deles. John Hammond (Richard Attenborough, em uma participação minúscula) não é mais antropocentrista, tendo se transformado em um ecocentrista disposto a elidir a intervenção humana no Sítio B (ilha onde os dinossauros estão reclusos). Ian (Jeff Goldblum) é outro que se transformou radicalmente: participa da ação, é cauteloso, tenta ser responsável e censura homens que atuam em uma causa como pretexto para se aproximar de mulheres (o que demonstra na fala sarcástica dirigida a Nick, fotógrafo vivido razoavelmente bem por Vince Vaughn). Percebendo que era um papel diferente, mas com o mesmo nome, em uma sequel, e interpretado pelo mesmo artista, Goldblum imprime maior seriedade a Ian, abandonando o jeito descontraído e focando apenas em duas mulheres: sua namorada e sua filha.
É no trio que “O mundo perdido” tem seu tema principal: se “Jurassic Park” é sobre paternidade (a sensação de criador em Hammond, o paternalismo crescente em Alan etc.), “The lost world” é sobre instinto familiar. Ian agora é o protagonista altruísta – embora tivesse coragem no primeiro longa, ele estava distante de ser o herói (papel do Alan de Sam Neill), já que estava ocupado tentando ser o alívio cômico -, em torno do qual a narrativa gira. Julianne Moore faz de Sarah uma personagem empolgada, alegre e vivaz (além de um pouco imprudente), tornando-se mais interessante ao recusar o papel de donzela indefesa que Ian (o salvador montado no cavalo branco, como ela mesma satiriza) tenta lhe imputar. Ou seja, tanto o heroísmo quanto o subtexto feminista foram transmitidos a outras personagens, mantendo, portanto, elementos da película precedente. O importante é que, em regra, os atos de Ian são motivados pela proteção que ele tenta fornecer à namorada Sarah e à filha Kelly, o que, analogamente, fazem os Tyrannosaurus em várias sequências.
Entretanto, o backstory de Ian é meramente mencionado, o que ofende uma regra básica da narratologia (“show, don’t tell” – em tradução livre, “mostre, não conte”). É possível inferir que ele é ausente do cotidiano da filha e que também desfalcou a namorada em algumas ocasiões. Mas qual o motivo? De onde apareceu essa filha? Quem é a mãe (se existir)? Os diálogos expositivos são incômodos (no primeiro ato, quando Hammond propõe a empreitada a Ian, as falas deste são vergonhosas de tão explicativas) e informações importantes são apenas relatadas ou sugeridas. Não há preocupação alguma de criar personagens densas e complexas (exceto, talvez, o casal principal), pelo contrário: há uma cena desnecessária (ainda que inusitada, não agrega nada na trama) em um quintal de uma família de desconhecidos, enquanto que uma cena que explorava a personalidade de Roland, coadjuvante que poderia gerar interesse, foi excluída do corte final. O longa ficou inflado de coadjuvantes sem relevância, quando não estereotipados.
O script é ainda mais formulaico que o primeiro (ambos baseados na literatura de Michael Crichton, roteirizada por David Koepp), compondo-se de três atos com um plot twist que exige enorme suspensão da descrença (mesmo considerando tratar-se de uma aventura exagerada), dando ensejo a um terceiro ato desinteressante (basta dizer que um T-Rex não é o King Kong). Além disso, a dicotomia entre caçadores e protetores (dos dinossauros), uma metonímia para o ecocentrismo, é mal abordada, com personagens unidimensionais e estereotipadas, e levantando uma bandeira que não é convincente no enredo. Anos depois, James Cameron transmite a mesma mensagem com maior eficácia em “Avatar”.
A despeito de todas essas ressalvas, a direção continua sendo do nível de excelência que Steven Spielberg atingiu com “Jurassic Park”. O cineasta repete estratégias cinematográficas do anterior, em especial a divisão entre efeitos visuais em CGI (para cenas de maior velocidade e planos abertos), de um lado, e efeitos especiais em animatronics (para cenas mais estáticas e planos fechados), de outro. Como antes, existem cenas combinando efeitos especiais e visuais, como naquela em que três personagens parecem prestes a cair de um precipício – aliás, essa brilhante cena, bastante imitada em produções posteriores, é possivelmente o único grande legado autônomo de “O mundo perdido”, pois as outras virtudes são residuais em relação ao seu antecessor. Novamente, Spielberg mostra primeiro a reação, deixando o espectador apreensivo, para depois revelar a ação em si. Enfim, nos efeitos (em sentido amplo), o cineasta tem mais uma obra-prima.
A novidade é o uso de miniaturas e maquetes em maior quantidade, o que facilitou o trabalho em planos bem abertos, deixando a execução, todavia, menos palpável. O prólogo tem um viés de horror sem se aproximar do gore, contando ainda com uma sutil rima visual feita pela montagem (do horror para um bocejo). Outra rima visual gerada pela montagem (inclusive mais engraçada que a anterior) ocorre em um plano no qual aparece uma mulher gritando em um carro. Ainda quanto ao fato de evitar o lado gore que a película poderia ter, Spielberg, ao invés de mostrar diretamente o sangue jorrando, o exibe através da água, suavizando o efeito da violência perante o público.
Seguindo a ideia de “mundo perdido”, há uma maior exploração do espaço, de modo que os cenários são bastante ricos nesse sentido. Janusz Kaminski, parceiro de Spielberg em diversas produções esplendorosas, não faz um trabalho tão bom quanto o de Dean Cundey na fotografia: no primeiro, Cunday é favorecido por um tom mais alegre da película, podendo explorar o visual sem esconder nada do espectador; no segundo, Kaminski acerta ao manter o tom noturno e chuvoso, o que até favorece a violência atenuada, todavia torna a estética menos atraente e exagera na obscuridade – sem contar os erros na iluminação noturna, que surge de fontes inexplicáveis. Felizmente, John Williams foi mantido na trilha musical – e não decepciona: as músicas são mais assustadoras, mais agitadas e mais selvagens, aproveitando parte da melodia dos principais temas do primeiro filme, adicionando instrumentos de percussão.
É verdade que “O mundo perdido” decepciona quando comparado a “Jurassic Park” – mesmo que visualmente magnífico em razão dos efeitos visuais, isso é apenas repetição do que já foi visto. O filme não é ruim, só não conseguiu superar o anterior. É uma minoria que consegue essa superação, sina que reforça o perigo das continuações na indústria cinematográfica.
![]()

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

