“O MÁGICO DE OZ” (1939) – A magia de um filme inestimável e atemporal
No ano de 1900, L. Frank Baum publicou um livro que, trinta e nove anos mais tarde, daria origem a um homônimo clássico do cinema. O MÁGICO DE OZ, de 1939, é cultuado por gerações em razão das preciosas mensagens que transmite. Décadas depois do lançamento das obras (literária e cinematográfica), ainda subsistem interpretações e destaques a serem feitos.
No longa, Dorothy é uma garota que mora em uma fazenda no Kansas com seus tios Henry e Em. Em razão de um furacão avassalador, ela e seu cachorro Totó são levados para uma terra distante, onde tudo é bem diferente do que ela conhece. Querendo voltar para casa, Dorothy conta com a ajuda de três amigos que faz no caminho para encontrar o poderoso Mágico de Oz, que é quem poderá levá-la de volta – isso se a perigosa Bruxa Malvada do Oeste não impedir.

A obra de Baum foi adaptada para os cinemas por Noel Langley, Florence Ryerson e Edgar Allan Woolf (com contribuição de diversos outros), mantendo a ideia de uma poderosa fábula repleta de mensagens ocultas. Para além de teorias conspiratórias envolvendo teosofia e o disco “The dark side of the Moon” (Pink Floyd), a obra admite inesgotáveis interpretações. Por exemplo, em uma abordagem freudiana, trata-se de uma metáfora sobre a passagem feminina da infância à adolescência – os sapatos de rubi corroboram a tese, como símbolo da menstruação. Dorothy começa como uma criança que se rebela contra a opressão dos adultos, encontrando na terra imaginária uma fantasia escapista. Quando ela sai de lá, após diversos aprendizados, está muito mais apta a lidar com seus problemas.
Resumir “O mágico de Oz” em “não há lugar como o nosso lar” é demasiado reducionista, para não dizer tolo. Reducionista, porque ignora os diversos subtextos para atentar exclusivamente ao texto expresso; tolo, porque não faz sentido que Dorothy prefira uma realidade opressora simbolizada pela fotografia em tons sépia a um universo fantástico e feliz que explora o que o Technicolor começava a oferecer. A Terra dos Munchkins (quiçá precursores dos oompa-loompas) tem cores vivas, esbanja alegria e faz de Dorothy uma heroína (já que teria matado a Bruxa Malvada do Leste). Assim, não faz sentido ler o texto dessa maneira rasa. Faz sentido a ideia de transição da protagonista, mas há muito mais a ser interpretado.
No primeiro ato, uma lição preliminar: sempre haverá dissabores a serem enfrentados. Dorothy sai do Kansas graças a um desejo seu, ela quer ir acima do arco-íris porque lá os problemas derretem e os sonhos se realizam. É o que ela diz na poderosíssima Leitmotiv “Over the rainbow”, embalada pela voz suave de uma Judy Garland ainda no início da brilhante carreira. O lugar fantástico para onde ela vai pode ter as cores e as alegrias que ela desejava, mas não deixa de ter adversidades, já que a Bruxa Malvada do Oeste não tarda para aparecer.
Na sequência, a mensagem é que a jornada é bem melhor na companhia de amigos. O Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde aparecem para ajudar Dorothy em sua caminhada – e a caracterização deles, em termos de maquiagem e figurino, é simplesmente soberba, destacando-se o segundo porque o ator se revela atento a uma linguagem corporal compatível com as limitações físicas da personagem – e para que ela também os ajude. Os quatro querem a magia para atingir seus objetivos, adquirindo elementos que não possuem. Com a sua união (e uma ajuda da bondosa Bruxa do Norte), os obstáculos trazidos pela Bruxa Malvada do Oeste são superados.
É no terceiro ato que encontram o Mágico, momento em que há dois desmembramentos narrativos. O primeiro é a ratificação de uma mensagem pretérita, de que o sobrenatural (incluindo o divino) não existe. O Mágico é tão charlatão quanto o Professor Marvel, simplesmente porque magia e divindades existem apenas na imaginação. O deus moldado pelas religiões, aquele a quem são dirigidos os anseios pessoais, simplesmente não existe. Desejos podem sim se concretizar, mas não por uma concessão divina. É preciso – e aqui surge a segunda lição do terceiro ato – acreditar e confiar em si, pois todas as pessoas têm as virtudes que acreditam não ter. Logo, o poder da crença não deve ser dirigido a um ente imaterial imaginário (deus/Deus), mas a si mesmo. A autoconfiança é mais forte do que pode parecer.
Respaldando a interpretação segundo a qual “O Mágico de Oz” transmite a ideia de que deus não existe estão pequenas mensagens subliminares, como a cena das árvores e um questionamento oferecido por Dorothy – sem olvidar o momento em que o Mágico é desmascarado por Totó. No primeiro caso, quando a protagonista tenta arrancar maçãs das árvores para se alimentar, as frutas são logo esquecidas, como se não tivessem relevância. Basta associar maçãs ao significado bíblico da tentação para concluir que, na ótica do longa, o texto religioso é descartável. Mais adiante, quando falam para Dorothy que ninguém nunca viu o Mágico de Oz, ela mesma tem a sagacidade de questionar como sabem que ele existe.
Mediante cenários bucólicos impressionantes para a sua época, o diretor Victor Fleming faz de “O Mágico de Oz” um espetáculo imagético. A contraposição entre o Kansas e Oz seria suficiente para transmitir a riqueza visual concebida na obra literária, porém o simbolismo da parábola, aliado à formidável interpretação de Garland no papel principal, são alguns dos elementos que fazem deste um filme inestimável e atemporal. Em síntese, é essa a sua magia.
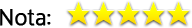

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

