“O IRLANDÊS” – É pouco tempo de filme
Três horas e meia significam muito tempo? A melhor resposta para essa pergunta não poderia ser mais óbvia: depende do que vai se fazer. Se é para assistir a um filme, novamente: depende do filme. Tratando-se de um blockbuster hollywoodiano qualquer, provavelmente sim, é tempo demais. Já no caso de O IRLANDÊS, um não-blockbuster hollywoodiano nada qualquer, esse tempo se dissipa como um piscar de olhos.
O longa é um épico sobre a vida de Frank Sheeran – conhecido como “O Irlandês” -, vetereno de guerra que se divide entre o trabalho de caminhoneiro e serviços em favor da máfia como matador de aluguel. Sua vida cresce quando ele começa a trabalhar para Jimmy Hoffa, célebre presidente de um sindicato que some misteriosamente.

Embora não seja equivocado falar que se trata de um filme de máfia, ele é muito mais do que isso. Baseado no livro de Charles Brandt, o roteiro de Steven Zaillian faz da película uma grande metáfora sobre a vida – não apenas a vida do Irlandês, mas a vida de qualquer pessoa. Frank tem uma ascensão meteórica, encontra obstáculos, corre riscos, enfrenta atritos familiares, enfim, vive uma vida que, guardadas as devidas proporções, qualquer pessoa vive.
Há um espaço deveras grande para subtextos inteligentes, como a corrupção policial (a polícia pode não ajudar Hoffa em seus objetivos, mas certamente não permite que ninguém o atrapalhe), o contexto político da época (com ênfase em Kennedy e nos interesses estadunidenses em relação a Cuba) e, de maneira ampla, a relação entre poder e diplomacia. Em relação ao último, Frank se torna uma pequena engrenagem (enquanto tal, indispensável, mas não insubstituível) dentro de uma enorme estrutura de poder, tendo êxito em razão da sua capacidade diplomática, sem prejuízo da subserviência (quando necessária), características que Jimmy não reunia (o que explica seu conhecido fim).
A narrativa é fascinante porque não há heróis ou vilões, mas personagens que participam de uma disputa por poder, alguns com maior protagonismo que outro. Frank não é personagem principal da máfia, mas sabe o seu lugar e tem plena noção de que consegue tudo graças a Russell Bufalino, que o apadrinha desde o momento em que se conhecem acidentalmente. O Irlandês entra em uma grande rede de conexões: de Bill Bufalino chega a Russell, deste para Jimmy e assim por diante. Russell, porém, permanece sendo il padrino do protagonista – ou seja, este deve àquele obediência, o que é natural em relações de poder.
Surpreendentemente, o script encontra espaço para conflitos menores, como o de Frank com sua filha Peggy (participação de Anna Paquin, cujo olhar de censura desferido contra ele é mais eloquente do que qualquer diálogo que poderia travar), além de um humor bastante peculiar. Longe de transformar o filme em uma comédia, piadas como a das armas submersas e da obsessão dos italianos por Tony rompem com a seriedade do plot.
No comando do elenco, não havia nome melhor que Robert De Niro para o papel de Frank. A despeito de alguns cacoetes que lhe são próprios (como na cena em que fica encurralado pelo Angelo Bruno de Harvey Keitel, que participa pouco), mas que combinam com a personagem, o trabalho de De Niro é fenomenal em momentos-chave, como o semblante de inconformismo com uma tarefa designada por Russell. Como se não bastasse a irretocável maquiagem de envelhecimento e rejuvenescimento (e ele realmente aparece em muitas fases da vida), o ator usa da linguagem corporal para destacar a condição física da personagem (quando mais novo, se movimenta mais ereto e veloz; mais velho, tem dificuldades de movimentação).
O segundo grande nome (mas provavelmente empatado com De Niro na qualidade da atuação) é o de Al Pacino, que faz de Jimmy alguém controverso, mas carismático. Apresentado como uma mescla entre o Presidente e Elvis, Jimmy é capaz de repreender seus funcionários aos berros e humilhando-os para depois, sem perder a coerência, tratar Frank com afago. Tradicionalista, prezando por horários e roupas, ele é alguém que destoa um pouco das demais personagens (que são muitas, no limite de confundir o espectador, o que não ocorre porque a maioria não tem relevância) porque não costuma soar ameaçador (nem tem nomes ameaçadores, como o Navalha de Bobby Cannavale), bem como porque Pacino “vende” muito bem o papel. Sem dúvida, é o seu melhor desempenho desde “O poderoso chefão”.
Completando o trio de luxo está Joe Pesci, cuja versão idosa (novamente no elogiável trabalho de envelhecimento) tranquila de Russell oculta um mafioso calculista que não deve ser subestimado sequer pelo espectador. No comando dos três, Martin Scorsese revisita a máfia com uma história real e colegas de longa data (como De Niro e Pesci). O plano-sequência do prólogo é significativo para anunciar ao público que se trata de uma direção requintada e nada apressada. Usando um pouco de linguagem documental (como excertos de noticiários da época, em preto e branco e razão de aspecto reduzida, além de nomes de pessoas reais e informação de como e quando morreram), Scorsese não indica expressamente o ano em que as ações se passam simplesmente porque não precisa. Seja ao mencionar episódios reais (morte de Kennedy, intervenção militar na Iuguslávia etc.), seja pelo espetacular design de produção, o público jamais fica perdido entre as linhas narrativas e flashbacks.
No aspecto visual, detalhes como um carro vermelho (representando um assassinato que se anuncia) e o uso de lente grande-angular (para alongar o espaço do campo) se exibem de maneira orgânica com uma montagem primorosa. Os cortes de Thelma Schoonmaker estão sempre na medida do necessário – cortes por associação sonora (quando Russell atende Jimmy ao telefone), por associação visual (no primeiro homicídio praticado por Frank, que “pinta” a casa com sangue) -, deixando de existir, por conseguinte, quando desnecessários (a associação de um plano fechado nas flores com o som de um tiro é genial).
Tudo tem função narrativa, do figurino (“quem vai a uma reunião de bermuda?”) à trilha musical. Nesse aspecto, há muita música de época (como “In the still of the night”, de The Five Satins), algumas mais melancólicas (“Cry”, de Johnnie Ray & The Four Lads) do que outras (“Qué rico el mambo”, de Perez Prado Orchestra). O sopro de “Theme for The Irishman”, música criada por Robbie Robertson (responsável pela trilha) se aproxima da gaita de Jean Wetzel em “Le grisbi”, que também está presente no longa e – certamente não por acaso – em outro de máfia (o franco-italiano “Touchez pas au grisbi”). O Leitmotiv de “O Irlandês”, contudo, acompanha a narrativa para ter seu trecho mais fúnebre, com cordas em tom grave.
Voltando ao início, três horas e meia significam muito tempo? Com a grandiosidade da obra de Scorsese, é pouquíssimo. Assim como são poucas as linhas deste texto para explorar o quão magnífica é a produção original Netflix
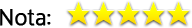

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

