“INDIANA JONES E O TEMPLO DA PERDIÇÃO” – Uma aventura arqueológica
O famoso arqueólogo Indiana Jones foi apresentado em 1981 enfrentando nazistas em busca de uma relíquia bíblica. Nessa aventura, a arqueologia recebeu feições bem imaginativas e a busca pelo passado se tornou uma fantasia dotada de muita adrenalina. Um universo próprio começou a ser construído a partir da imaginação do que precisaria ser feito para buscar informações de sociedades tão antigas. Três anos depois, o mundo diegético da arqueologia se expandiu em INDIANA JONES E O TEMPLO DA PERDIÇÃO, consolidando elementos marcantes, transformando traços do protagonista e experimentando outras possibilidades para a fantasia.
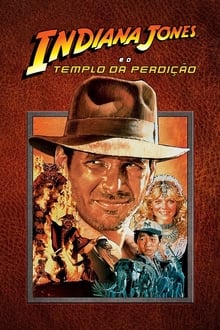
Após uma missão não ter terminado exatamente como esperava, Indiana Jones se vê perdido na Índia. Ele está acompanhado de seu “guarda-costas”, o menino Short Round, e da cantora Willie Scott. Os três personagens chegam a uma pequena aldeia indiana que sofre com a miséria, a morte de seus habitantes e o sequestro das crianças. O responsável por toda essa opressão é o palácio do marajá, que raptou os jovens para escravizá-los e roubou pedras mágicas do local. Então, o arqueólogo e seus companheiros são convencidos a enfrentar o fanatismo de um culto que sacrifica seres humanos para libertar as crianças e recuperar as relíquias.
Nas primeiras sequências, Steven Spielberg resgata as características que definem a aventura arqueológica desde o primeiro filme. Ação, comédia e suspense se entrelaçam de forma inventiva sem que nenhum dos gêneros comprometa o outro. É assim que o cineasta encena os momentos em que o protagonista não consegue fazer uma troca arriscada com uma figura ameaçadora e precisa fugir da China com Short e Willie. A primeira sequência em especial reforça que o universo de Indiana Jones pode proporcionar diferentes experiências sensoriais aos espectadores, jamais abrindo mão da diversão como guia emocional da cena. A encenação começa com apresentações musicais contagiantes que também podem ser apreciadas em termos estéticos e evoluem em direção a instantes de grande tensão (as ameaças para o arqueólogo e o som de disparo da rolha de um champanhe ou de uma arma de fogo) e de humor eficiente (a confusão de bexigas soltas, os cubos de gelo no chão e a busca atrapalhada de dois objetos). E Steven Spielberg domina muito bem cada uma dessas passagens e a transição entre elas.
Em meio à consolidação das sequências de aventura como mistura de sensações distintas, a narrativa insere aspectos específicos no segundo filme. Dessa vez, o protagonista interage mais diretamente com dois personagens coadjuvantes que agregam novas dinâmicas aos conflitos. O jovem Short Round, vivido por Ke Huy Quan, parece ser simplesmente o menino deslumbrado de estar em uma aventura mortal, mas logo se transforma em alívio cômico por representar uma criança que precisa aplicar pequenos golpes para sobreviver – dentro do humor, há a crítica inserida rapidamente sobre as consequências da invasão japonesa sobre a China. É possível ainda notar que Short Round adquire papel relevante no enfrentamento dos vilões. Já a cantora Willie, interpretada por Kate Capshaw, não consegue se desviar de estereótipos próprios da década de 1980 que são problematizados no presente. Em muitas ocasiões, a personagem aparece como a mulher indefesa que precisa ser salva, histérica que grita constantemente e fútil que se preocupa com a unha quebrada em situações de risco.
Se “Indiana Jones e os caçadores da arca perdida” abordou o interesse dos nazistas por conhecimentos místicos e científicos como armas poderosas, sua continuação avançou no tempo e se baseou no período de dominação imperialista europeia sobre a Ásia. Em muitos níveis, tal forma de opressão se manifesta na narrativa acompanhando diferentes escalas de poder e controle. Por um lado, uma aldeia é oprimida pelo marajá em seu palácio luxuoso, retirando as riquezas da região e ameaçando a vida de seus habitantes, o que denota uma relação marcada pela exploração de classe sob aspectos econômicos e culturais. Por outro lado, a elite indiana é submetida ao domínio inglês, representado por uma autoridade europeia em visita ao palácio, que se sustenta nessa posição graças ao poderio bélico e à aliança com esta classe dominante colaboracionista. Como se pode observar mais adiante, os planos dos vilões também se relacionam com o desejo de liberdade de seus próprios cultos malignos em oposição à dominação inglesa e aos outros credos no mundo.
Da mesma maneira que a inserção de personagens coadjuvantes apresenta aspectos discutíveis, a representação da Índia igualmente cai na armadilha dos estereótipos. Na sequência do jantar, enquanto Indiana Jones conversa com autoridades indiana e inglesa acerca da presença europeia no território, em outra ponta da mesa Short e Willie se espantam com o cardápio servido. É nesse instante que a refeição composta por cobras vivas, insetos, olhos submersos em sopa e sobremesa no crânio de macacos passa uma imagem de exotismo e selvageria para um povo de cultura diferente da europeia ou estadunidense. É como se os indianos estivessem em um patamar inferior de evolução, expresso nos hábitos culinários. À medida que se evidencia as motivações dos antagonistas, existia o risco de construir outra representação estereotipada através do culto religioso nas profundezas do palácio. Como a religião é fantasiosa e não se liga com nenhuma outra forma de credo tradicional da Índia ou monoteísta ao redor do mundo, o problema é evitado e a manifestação ritualística assume a dimensão de vilania fanática e destrutiva.
Ao mesmo tempo que elementos familiares ao primeiro filme são retomados e aspectos inéditos são inseridos, a construção das sequências de ação experimenta sensações que até então não haviam sido trabalhadas. Mesmo tendo nazistas como os vilões anteriores, a abordagem dessas cenas priorizava um caráter lúdico e fantasioso no contato com o desconhecido. Na continuação, Steven Spielberg eleva a proporção do clímax e confere a ele um tom sombrio, duas características que ainda não estavam presentes nesse universo. Desde o momento em que Indiana Jones, Short e Willie descobrem uma passagem secreta e câmaras escondidas, a ação se desenrola sem interrupções ao longo de um fluxo contínuo pelo interior da construção. Além disso, os eventos do clímax são mais funestos (ritual de sacrifício, escravização de crianças, maldições e mortes impactantes), são banhados por uma iluminação avermelhada evocativa da violência praticada ou da sensação de inferno e acompanhados por uma trilha sonora mais angustiante de John Williams. Então, o confronto dos protagonistas com os vilões mantém o tom aventuresco que gera adrenalina no público e se assemelha a uma obra de terror.
Passados três anos desde a chegada do mais famoso arqueólogo no cinema, “Indiana Jones e o templo da perdição” contribui para o desenvolvimento de um universo fictício em torno da arqueologia. No interior dele, há um protagonista que se torna emblemático para simbolizar uma aventura arqueológica dedicada a conquistar o espectador pelo senso de adrenalina que cria e pela imaginação fantasiosa que propõe. Sendo assim, Indiana Jones ocupa um papel tão importante porque preserva padrões recorrentes e evolui para outras nuances graças à abordagem dada a ele e à atuação de Harrison Ford. A narrativa comenta rapidamente sobre o medo de cobra, resgata certa “cafajestagem” inicial nas relações amorosas e ironiza a icônica cena do uso de um revólver para superar um oponente com espada. E o protagonista passa por leves mudanças que o tornam mais complexo, como a percepção de que seu trabalho não precisa ser, necessariamente, levar uma relíquia para um museu para ficar apenas empoeirado. É possível também trabalhar pensando nas pessoas.



