“IMPÉRIO DA LUZ” – Nem mágico nem tocante [24 F.Rio]
Desde o início da pandemia do coronavírus, o cinema sofreu de diversas maneiras. Salas de exibição precisaram ficar fechadas, produções foram paralisadas ou adiadas e profissionais sentiram a interrupção de seus trabalhos. Então, poderia ser interessante consolidar o retorno às salas de cinema, após quase dois anos de isolamento social, com um filme que homenageia a própria sétima arte. Esta é a forma como IMPÉRIO DA LUZ tem sido anunciado pelo marketing e pela imprensa. Após as primeiras exibições, cabe perguntar se uma ode ao cinema poderia, de fato, ser tão carente de magia e de emoção.
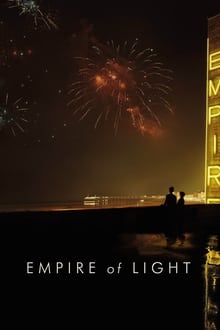
No início da década de 1980, uma cidade costeira da Inglaterra é palco de um romance entre duas pessoas que carregam suas próprias dificuldades pessoais. Hilary trabalha como gerente do cinema Empire com alguns colegas que se dividem entre a bilheteria, a limpeza, a bomboniere e o atendimento aos clientes, além de ser abusada constantemente pelo administrador do local. E Stephen é um jovem negro contratado para cobrir a ausência do bilheteiro que saiu do trabalho, apesar de seu sonho ser estudar arquitetura. Os dois se aproximam e criam uma relação no belo cinema antigo da costa sul do país.
Considerando-se a estratégia de marketing e a sequência de abertura, o filme poderia dar a entender que a experiência encantadora dentro do cinema seria o centro dramático da narrativa. A câmera atravessa todos os espaços que constituem o local desde antes da abertura para a entrada do público até a movimentação de clientes e funcionários durante o horário de exibição. A princípio, esta escolha inicial poderia soar como uma homenagem aos mínimos detalhes que compõem um cinema, vista nos planos detalhes que captam as portas de entrada, o recipiente de pipoca, a bilheteria, as escadas, os corredores, o interior da sala de projeção… Porém, a encenação criada por Sam Mendes não torna esse momento prazeroso ou acolhedor, já que a sensação de melancolia domina cada aspecto do cenário. Parte disso se deve à trilha sonora que se adere ao vazio de uma locação ainda fechada, outra parte se deve à decupagem que acompanha a protagonista cumprindo suas obrigações metodicamente e sem qualquer prazer.
Após situar o espectador na dinâmica do Empire, apresentando os funcionários durante o trabalho e em seu tempo de descanso no refeitório, o roteiro se interessa pelo relacionamento entre Hilary e Stephen. O texto também escrito por Sam Mendes tem como objetivo evidenciar o quanto o jovem ajuda a retirar a mulher do que parece ser uma vida apática preocupada apenas com as obrigações profissionais. Em teoria, até existem momentos partilhados pelos dois que seriam comoventes, como a contemplação dos fogos de artifício na noite do Ano Novo e um passeio pela praia. Embora os desempenhos de Olivia Colman e de Micheal Ward consigam demonstrar a diferença entre a mulher demasiadamente contida e o homem espontâneo, e a fotografia criada por Roger Deakins crie uma aura mágica ao potencializar a força visual do cenário, a construção dramática do romance não acompanha os atores e o fotógrafo. O cineasta não consegue sair do burocrático ao filmar uma relação que nunca alcança um clímax mais emocional – por mais que se possa notar em quais cenas Sam Mendes pretendia estabelecer um vínculo mais forte, o efeito não escapa da frieza convencional.
Se o Empire surge contraditoriamente melancólico e o romance do casal principal se revela inexpressivo, as subtramas dos dois personagens centrais também se mostram insuficientes do ponto de vista social. Do mesmo modo que o cinema não se torna fantasticamente atrativo como se supunha, os arcos de Hilary e Stephen não atingem emocionalmente o espectador mesmo abordando questões urgentes, como machismo e racismo. Os abusos sofridos pela protagonista e cometidos por figuras masculinas destruidoras de sua saúde mental são tratados de forma superficial e, por vezes, caricatural (como exemplo, todas as cenas em que é forçada a ter relações sexuais com Mr. Ellis). Algo similar ocorre nos momentos em que o jovem sofre preconceito racial na rua e dentro do cinema, variando entre uma representação simplista demais deste problema social e outra quase prosaica saída de uma comédia de costumes. Em comum para as duas subtramas, há uma abordagem que não aprofunda as dimensões sociais mais complexas do machismo e do racismo e prefere dar destaque ao romance.
Entretanto, a própria relação romântica apresenta aspectos problemáticos, especialmente quando os dois personagens se deparam com conflitos mais intensos em torno de suas vidas. Olivia Colman e Micheal Ward ainda mantêm controle sobre as transformações de Hilary e Stephen ao, respectivamente, revelarem as fragilidades emocionais de alguém com problemas psíquicos e a desesperança de alguém atormentado pela violência do preconceito, mesmo que não seja o bastante. A forma como Sam Mendes lida com a discriminação racial e os abusos físicos e emocionais faz transparecer um cuidado excessivo em não incomodar os espectadores, pois parece haver um temor imenso em levar o público a se reconhecer como praticante daqueles atos violentos e abusivos. O homem abusador é caracterizado por uma caricatura distanciadora e os racistas são membros de um grupo extremista ou um senhor “rabugento”. Além disso, a própria doença mental da protagonista é tratada de maneira genérica e despreocupada pelo diretor, chegando inclusive a tornar a mulher coadjuvante das sequências em que sofre alguma recaída ou descontrole emocional.
O problema se escancara quando a ideia de fuga se concretiza através de construções duvidosas ou não se concretiza a partir da falta de recursos simbólicos. Nos instantes em que a narrativa parece mergulhar mais efetivamente nas condições sociais da Inglaterra da década de 1980, alguma atitude de Hilary ou de Stephen desvirtua o sentido da cena da aparente discussão social (rasa, é verdade) para um rompante cômico ou romântico sem qualquer grau de afetividade real. E, mais diante, quando o cinema volta a ser descrito como um local mágico que poderia se constituir como uma válvula de escape para as angústias do dia a dia, o filme adota as escolhas mais desinteressantes e racionais. A explicação de como funciona a projeção com seus rolos tradicionais de película, a exibição de alguns trechos de filmes da época, a aparição dos recortes de jornal com fotografias de artistas famosos na sala do projecionista e a experiência de Hilary dentro da sala de cinema são encenadas sem criatividade e relação emocional. O que poderia ser uma fuga para um universo mágico se revela apenas uma experiência comum.
Ao observar mais uma vez o título “Império da luz“, é possível se perguntar se teria sido mesmo a melhor escolha se for levado em consideração o efeito geral do filme. Inicialmente, poderia representar muito bem a força idealizadora e mágica do cinema, esta expressão artística que se produz a partir da ilusão da fotografia em movimento. Com o tempo, é um título que remete muito mais a uma propaganda anunciada pelo marketing e não correspondida pela obra por conta da ausência de fantasia e de emoção em uma trama que pedia justamente fantasia e emoção. Os rumos que a narrativa toma para indicar as escolhas, as consequências e os destinos das vidas Hilary e Stephen transmitem a sensação de que deveriam ser tocantes e envolventes, porém as imagens correm em vinte quadros por segundo despertando apenas reações burocráticas e apáticas.

*Filme assistido durante a cobertura da 24ª edição do Festival do Rio (24th Rio de Janeiro Int’l Film Festival).


