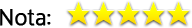“DRIVE MY CAR” – Viver, do verbo dirigir
“O sol”, escreveu Thoreau em Vida Sem Princípio, “foi feito para iluminar trabalhos mais dignos do que estes”. Em DRIVE MY CAR, o segundo dos dois memoráveis longas realizados por Ryūsuke Hamaguchi em 2021, entretanto – um filme de inverno, de interiores, de noites –, o sol mal reluz. Nos raros momentos em que aparece, abrilhantando partes de braços, metades de rostos, Yūsuke (Hidetoshi Nishijima) se senta no banco de trás do velho Saab Turbo vermelho que o levara a Hiroshima, e Watari (Tōko Miura) o conduz em silêncio, ou às poucas palavras. São a luz um do outro.

Yūsuke é um veterano ator de teatro, também diretor. Está sozinho em uma nova cidade para comandar uma adaptação multilíngue do Tio Vânia de Tchekhov, um texto russo a ser apresentado com uma mistura de japonês, mandarim e coreano. Dois anos antes, estivera casado com Oto (Reika Kirishima), uma roteirista de sucesso, que ele certo dia encontra na sala de casa, transando com um jovem ator. Hamaguchi deixa claro pela simples paciência de seus planos, pelos olhos abalados de Nishijima, que Yūsuke teme pelo seu casamento. Incapaz de confrontar suas dúvidas, nada diz à esposa sobre o ocorrido. Dias mais tarde, Oto pede para que conversem sobre algo naquela noite, quando ele retornar do trabalho. Agoniado, ele protela ao máximo sua volta. Tarde da noite, em casa, lá está ela, mas sem vida, no chão, vítima de uma morte súbita.
Em Hiroshima, a cidade do luto perpétuo, da memória dos mortos, Yūsuke conhece Watari, a motorista designada pelo teatro para conduzi-lo pela cidade, a única outra pessoa que compartilha de sua profunda, tácita melancolia – a mesma melancolia que aflige Sonya e Vânia e os outros pobres camponeses da peça de Tchekhov. Trabalham em busca daquela dignidade de que Thoreau falava, de propósito, autoconhecimento. As vidas do mundo e as vidas do palco se misturam, se confundem, ensinam uma à outra. O que Watari e Yūsuke fazem não é assim tão diferente, suas ações, deixa claro esta nossa língua portuguesa, são as mesmas: dirigem. Ele, uma peça, ela, um carro. Põem coisas em movimento, combatem a inércia. Dirigem tanto para isso, para não pararem, como para chegarem em algum destino, em algum momento. Riding for the feeling / riding for the riding / for the Riding / and for the ride, como canta Bill Callahan na canção que divide o âmago com “Drive My Car”, e que assim se anuncia: It’s never easy / to say goodbye / To the faces / So rarely do we see another one / So close and so long…
O que é que avistam na estrada? Onde chegam, se é que chegam? Encontram o outro. O outro que perderam. Watari revela que perdera a mãe, soterrada pela neve de uma avalanche quando mais jovem. Poderia ter feito mais para salvá-la naquele dia, mas não fez, como Yūsuke não voltou pra casa assim que pôde na noite em que morreu sua mulher. Ambos os fantasmas pairam sobre as conversas entre os dois nos longos trajetos que percorrem, e se torna patente que tanto esposa amada quanto mãe odiada partiram como desconhecidas, completa ou parcialmente invisíveis. O fato da separação essencial entre duas pessoas, da incorruptível privacidade de cada um de nós, e a simultânea beleza e dificuldade desse fato, é o que Yūsuke aprende em Hiroshima, é o que Hamaguchi ensina em seu filme. Sua obsessão com a pluralidade de idiomas em seu trabalho é mais plena ilustração dessa verdade. Falamos todos línguas distintas, para além de nossos idiomas. Nossos corpos se mexem de formas singulares, palavras iguais querem dizer uma infinidade de coisas. Na peça, todos contam a mesma história, cada um à sua maneira. Compreender uma fala, seja vinda do palco ou da vida, é saber quem fala, é reconhecer feições e vozes, é conhecer um outro.
É nesse sentido que Lee (Park Yu-rim), a esposa de um dos produtores do espetáculo escalada para o papel de Sonya, é em muitos sentidos a presença mais importante em “Drive My Car”. Na cena do jantar, a primeira de uma série de cenas encenadas e ritmadas com invejável convicção que preenchem a segunda metade do filme, ela pede a Yūsuke, na majestosa língua coreana de sinais, que trate todos os atores do elenco com a mesma atenção e sensibilidade com que a trata. Ela não quer dizer “somos todos iguais, por isso merecemos o mesmo”, mas “somos todos drástica e igualmente diferentes, por isso merecemos o mesmo”. Nos dias que seguem, Yūsuke se revela mais e mais para Watari, e abre mais e mais espaço para o que Kōji (Masaki Okada) tem a dizer, o jovem ator com quem Oto transara naquele dia, que Yūsuke também escolhe para o elenco da peça.
Certa noite, depois de todos os segredos serem desencobertos, Yūsuke fala com o rapaz sobre uma das histórias de Oto, que ela nunca havia terminado, mas Kōji revela conhecer seu prosseguimento, e o narra em longos e hipnóticos planos. O fragmento que Yūsuke conhecia até então era uma história de desejos e de juventude, uma que Yūsuke certamente relacionava com os casos extraconjugais da esposa, todos com jovens atores. A continuação de Kōji, entretanto, a transforma radicalmente em uma história de culpa – a mesma que Yūsuke sente por não salvar sua mulher, que Kōji sente por sua série de más condutas, e que agora é evidente que Oto sentia também. De onde a culpa de Oto? Tarde no filme, quando visitam a cidade natal de Watari, ela provoca Yūsuke, o desafia a imaginar que nada havia de errado no casamento dos dois, que Oto não estaria frustrada, não contemplava o divórcio – a imaginar que talvez ela assim fosse, tivesse esses desejos. Então a culpa que Oto sentia era a culpa de ser quem era, mas ter vivido invisível; e a de Yūsuke se converte em ter sido cego.
A cena final de “Drive My Car” não é sua última. Se há alguma ressalva possível quanto a um filme dessa imensidão, é que sua breve sequência final, em que Watari dirige rumo ao horizonte, debaixo do sol, é talvez um tanto literal demais para um filme outrora tão denso, tão astuto, tão vasto – tal como plano final do “That Day On The Beach” de Edward Yang, em que Jia-Li caminha ao som do verborrágico voice-over de Terry Hu. A cena a que me refiro coincide coma cena final de Tio Vânia, interpretada pelo grupo ao fim da peça. A Sonya de Lee, de pé atras do Vania de Yūsuke, que se senta exausto na mesa, abraça afetuosamente o tio antes de entregar seu famoso e derradeiro monólogo, feito daqueles ditos imortais sobre o trabalho e o descanso, sobre a vida e os seus testes, sobre a paz e o sofrimento.
Se o presente da língua deste texto aqui é poder dizer “saudade”, se o da língua de Yūsuke é valorizar os caminhos e não as chegadas, se o da língua de Tchekhov é nos libertar da fantasia da posse, então o presente da língua dos sinais, a língua de Lee, a língua desta Sonya, é o da evocação, o de conjurar as frases, torna-las palpáveis, fazer da mente o corpo, da ideia a matéria. Quando Sonya conforta o tio, aquele que dirige a fazenda onde trabalham, quando Lee conforta Yūsuke, aquele que dirige a peça que encenam, ela torna seu corpo parte de suas palavras, move seus dedos sobre seu rosto, desliza seus braços sobre seu peito. Eis o presente da inteligibilidade – que se seja em parte do outro, que se seja em parte de si.