“CONCLAVE” – De um lado, a narrativa; de outro, a alegoria
Sem saber sua sinopse, CONCLAVE pode sugerir um drama religioso, já que simula um evento católico. Da mesma forma, pode gerar curiosidade, dado o sigilo a ele inerente. Seu olhar, todavia, é muito mais vasto que o mundo católico e, mesmo se interpretado hermeticamente (e não como uma alegoria), consegue envolver com facilidade o espectador.
Com a morte do Papa, os cardeais da Igreja Católica precisam se reunir para eleger seu novo líder, reunião a que se dá o nome de conclave. Enquanto decano, o Cardeal Lawrence é encarregado de administrar o evento, função que, contudo, não lhe agrada. Sua insatisfação se torna ainda maior à medida que descobre uma conspiração capaz de desestabilizar a instituição.

O que o diretor Edward Berger entrega é um thriller de conspiração apto a deixar o público mesmerizado diante de tamanho magnetismo. Boa parte disso se deve ao roteiro incrível de Peter Straughan (baseado no livro de Robert Harris), porém as virtudes estéticas do longa reforçam o clima de tensão inerente ao plot. É o caso da trilha musical, que usa instrumentos de cordas em ritmo acelerado, com muita personalidade, para efetivamente instituir a atmosfera instigante. Assim, por exemplo, ainda no primeiro ato, há planos sem muitos diálogos, mostrando os atos preparatórios para o conclave que estimulam a ansiedade do espectador para a sua ocorrência.
Visualmente, Berger impressiona ao estabelecer verossimilhança ao longa, com figurinos fidedignos e cenários de arquitetura renascentista (inclusive recriando a Capela Sistina), dentre outros. Na fotografia, prevalecem cores frias (o branco das roupas, o cinza das paredes de mármore), com evidente saliência (em razão do contraste) do vermelho (a porta, a fita, o tapete e o selo do quarto, a toalha de mesa e o tapete na Capela etc.) com função simbólica, concernente à guerra a ser travada.
Em uma primeira dimensão, de teor diegético, “Conclave” é deveras requintado. Do ponto de vista narrativo, a trama é repleta de surpresas (inclusive até o final) baseadas na estranheza e na desconfiança. Muitos elementos são colocados em xeque, como a idoneidade de um dos principais cardeais e a veracidade do título de cardeal de um arcebispo desconhecido de todos, o que inclusive gera dúvidas sobre a lucidez do Papa falecido. Tudo isso se torna um fardo ainda maior para o Cardeal Lawrence, combinando com a expressão cansada e de preocupação de Ralph Fiennes, em atuação simplesmente soberba. O decano sugere alguma fragilidade ao lacrimejar em frente ao corpo do Papa, mas demonstra a firmeza necessária para a função, a começar pela estimulante – e controversa – homilia anterior ao conclave.
O tom atribuído pelo diretor é bastante naturalista, com atenção aos mínimos detalhes. A plateia sente a sensação de clausura, pois os planos são geralmente fechados (e filmados nas estruturas internas da Igreja) e é ressaltada a incomunicabilidade. Eventualmente, porém, ela é burlada, o que o roteiro faz com inteligência, sobretudo nos diálogos de Lawrence com O’Malley (Brían F. O’Byrne), que sempre geram expectativas, e em uma interação com a Irmã Agnes (Isabella Rossellini). O papel das mulheres, inclusive, é escancarado, na medida em que expostas como serviçais invisíveis (quando se destacam, todavia, sempre geram abalo).
O ritmo da obra é irretocável e o final encanta por não sair no didatismo. Em regra, as personagens são arquetípicas, como no caso de Bellini (Stanley Tucci, sempre ótimo) e Tedesco (Sergio Castellitto, também em alto nível), cardeais que representam, respectivamente, o progressismo e o conservadorismo. Os cardeais Adeyemi (Lucian Msamati) e Tremblay (John Lithgow) têm grande função narrativa, mas não são personagens verticalizadas como Lawrence. Todos eles, em alguma medida, orbitam sobre as temáticas de poder e ideologia, dialogando, então, com a segunda dimensão. Ainda sobre as personagens, o Cardeal Benítez é certamente o mais complexo e o mais interessante, uma vez que claramente destoa dos demais em virtude de seu histórico e sua visão de mundo (basta ver a cena da oração). Carlos Diehz é uma escolha perfeita para o papel.
Não menos rica é a segunda dimensão de análise, extradiegética e de conteúdo político. “Conclave” estimula reflexões específicas e gerais, pensadas à luz da Igreja Católica. De maneira ampla, questiona se colocar uma minoria marginalizada no poder necessariamente significaria progresso e, sobretudo, se a tolerância seria a solução para os perigosos extremismos encontrados na sociedade. Limitando à instituição, elabora diversas críticas ao compromisso de alguns de seus integrantes (que seria à Cúria, não aos valores pregados) e à vida que lhes é proporcionada (comida farta, vinhos, instalações pomposas e tecnológicas, relativa blindagem moral). Os cardeais habitam uma bolha análoga à sociedade em geral, na qual os membros da cúpula vivem de riquezas, impunidade e regozijo, e a política é conduzida com reuniões de campanha muitas vezes clandestinas e um debate ideológico polarizado e improfícuo. Tanto na magistral alegoria quanto na sublime construção da narrativa, portanto, o longa é magnífico.
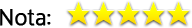

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

