“A SUBSTÂNCIA” – Visceral
Usando como catapulta um drama com camadas reais, A SUBSTÂNCIA é progressivamente surpreendente ao evoluir para um body horror surreal que enriquece a sua alegoria. Com pitadas de humor, fantasia e muito terror, a produção vai do grotesco ao comovente (ainda que de maneira esquisita) em segundos, demonstrando uma maestria em falar mais do mesmo com uma abordagem, contudo, deveras original.
Elisabeth Sparkle é uma celebridade em decadência há alguns anos e prestes a se aposentar do seu programa para que uma mulher mais jovem assuma. Diante da importância do fator etário na sua profissão, ela decide usar uma droga disponível no mercado negro capaz de criar uma versão mais jovem de si.

A narrativa de Coralie Fargeat começa previsível: Elisabeth se encanta com a eficiência da droga; no início, a empolgação prepondera. Porém, há um novo direcionamento cujo ponto de virada é o momento em que a versão jovem, Sue, se agarra ao bônus trazido pela droga (em detrimento do ônus). A partir dali, o longa se torna mais sombrio e fantasioso em uma progressão cujo clímax é soberbo. De maneira sucinta, o texto constrói um universo próprio, na medida em que existem regras para o uso da substância, com consequências, em caso de descumprimento, que conseguem ser surpreendentes não exatamente pelo conteúdo em si, mas pela forma.
Repleto de nuances, o roteiro critica o machismo da indústria do entretenimento (como na cena das audições) e cria uma personagem que é o epítome dessa mesma indústria. Não à toa, o nome dessa personagem é Harvey, interpretado por uma versão asquerosamente divertida por Dennis Quaid, alguém abertamente caricato (as roupas espalhafatosas, o overacting de Quaid…) cujas cenas amplificam ao máximo essa caricatura (os ruídos ao comer camarões é um exemplo). De maneira geral, os homens servem de alívio cômico, uma espécie de compensação moral pela mentalidade patética que prepondera no campo profissional de Elisabeth.
Nada disso, porém, ofusca o que é principal, que é a denúncia do absurdo da aposentadoria precoce da protagonista, uma situação meramente alegórica. De fato, é uma alegoria com aparência de disparate e que apela ao surreal para escancarar seu grau de insensatez. Porém, o surrealismo está, novamente, mais na forma do que no conteúdo, basta ver a escolha precisa de Demi Moore para o papel principal. Para além de uma interpretação brilhante, há um evidente diálogo com a sua trajetória profissional, migrando de atriz mainstream e sex symbol na década de 1990 para um relativo ostracismo a partir dos anos 2000. Assim como Elisabeth, Demi sentiu na carreira o passar dos tempos, como se a sua imagem presumida elidisse a sua imagem real. As sensações pelas quais a protagonista passa são sempre intensas: perseguição (os outdoors pela cidade, o anúncio no jornal, tudo conspirando contra a sua versão atual), desespero (a aceitação da droga sob circunstâncias nada recomendáveis), autopiedade etc. É na raiva, contudo, que Moore fascina o público, como na cena em que fica em frente ao espelho e na que assiste à entrevista de Sue na televisão. Margaret Qualley é ótima como Sue, mas o filme é de Moore.
Mais precisamente, o filme é de Moore e Fargeat. A cineasta preenche a sua obra com metáforas visuais ricas, como o ovo (representando a juventude), a sala escura criada por Sue (simbolizando o segredo), os corredores longos (alusão à passagem dos anos) e o edredom amassado da cama (como se estivesse se afundando). Visualmente, há farta presença da cor amarela, símbolo de alerta (como em placas de sinalização), e branca (cor associada à saúde e útil para o contraste nos eventos que ocorrem no banheiro, estando presente também no depósito). Há planos verticais fazendo rimas visuais, assim como é vertical a crítica feita pela cineasta quanto à (ir)racionalidade absurda da indústria do entretenimento. Os planos-detalhe geralmente são usados para causar desconforto, ora pelo exagero nos enquadramentos nos quadris de Sue, escancarando sua sexualização, ora nos momentos em que o filme assume seu lado repulsivo. No segundo caso, aliam-se um trabalho de maquiagem deslumbrante a ruídos intradiegéticos nauseantes. Em ambos, a função exercida se refere ao viés de terror que a produção vai assumindo de maneira crescente. O terror não é horripilante, é repugnante.
A direção é extremamente minuciosa. Por exemplo, quanto à relação entre os corpos, na metade inicial do filme, Elisabeth arruma o cabelo de Sue com afeto, todavia essa conduta é paulatinamente modificada enquanto ocorrem os desdobramentos das atitudes de Sue, chegando a um extremo antes inimaginável. Contudo, não existem apenas acertos; o didatismo da obra, dentre outros fatores, pode ser incômodo. Dividido em três partes, o filme beira o arrastado na primeira, uma vez que o drama é elastecido em demasia. Entretanto, há um crescendo inegável à medida que a narrativa se desenvolve mediante um mergulho na estética do body horror. Subvertendo contos de fadas como “Cinderela” e “A Bela e a Fera”, e tomando por base clássicos como “O corcunda de Notre-Dame” e (sobretudo) “O médico e o monstro”, o longa, em especial em seu ato final, consegue ser cômico, triste e nojento. Literal e metaforicamente, o resultado é visceral.
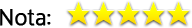

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

