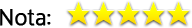“TITANIC” – A grandiosidade metafísica de um clássico
Não é novidade alguma que as maiores inspirações para a arte despontam na realidade. Estejam elas baseadas em causos inteiramente reais, ou meramente engatilhadas por pressões e dramas coletivamente vividos mundo afora, são bonitos os numerosos ecos que podemos encontrar entre a objetividade da vida e a subjetividade artística. É esse distanciamento último entre a cristalidade e o abstrato, inclusive, que revela os fragmentos mais interessantes dessa transmutação, fator bem explorado pelo majestoso TITANIC.
Projetado como um dos maiores navios já concebidos pela genialidade humana, o colossal local título – e fielmente recriado, após meses de estudo, em uma réplica levemente menor que o original, exigida pela ambição dos realizadores da produção – abriga um enorme contingente de classes e tipos sociais. Em sua trajetória através das águas do Atlântico, ele acaba ilustrando uma enorme complexidade humana, mas abrigando igualmente uma improvável história de amor – o conto que florescerá entre a ex-milionária Rose e o impávido e humilde sonhador, Jack.
Apaixonado por todos os encantamentos que a tela imagética é capaz de proporcionar, é nesse paralelo que o diretor James Cameron encontra o seu testamento sobre a inevitabilidade da natureza, entrelaçando a tragédia iminente com a impossibilidade de se tentar desfazer as chamas de uma força amorosa. Responsável, entre outros grandes feitos de sua carreira e dos bastidores dessa obra em específico, pelo desenvolvimento de uma câmera específica para as filmagens subaquáticas, é interessante encarar o cineasta como uma espécie de cientista da absolutividade de suas imagens.

Plenamente consciente da grande influência que as últimas podem exercer sobre o nosso imaginário, as mãos de Cameron conseguem converter qualquer coisa em espetáculo. Diferente do que se pode imaginar, entretanto, sua força se escora exatamente na confluência entre essa plasticidade e a potência sentimental que se esconde por detrás dos símbolos cinematográficos. Não por acaso ele se dedica a registrar a deterioriação das vigas e dos conveses com a mesma vivacidade com a qual os apresenta em primeiro lugar.
Ciente dos ruídos que se escondem nessas ilustrações – caso do distanciamento entre o brilho reluzente da embarcação e os ares abafados das cabines da classe econômica, entre outros exemplos -, o autor tenta trabalhar visualmente a pulsão daqueles inseridos naquele sedutor microcosmos. Cameron sabe do acréscimo de valor que essas relações terão em função do final historicamente antevisto, e faz do jogo entre as suas atrações e os seus obstáculos uma experiência digna de se acompanhar momento a momento, independente de seus destinos já estarem pré escritos.
É desse reconhecimento que floresce uma belíssima crônica de sobreposição entre o real e o imaginário. Dos créditos de abertura que propõem o renascimento do navio a partir de documentos reais, passando pela sequência seguinte onde o vagar de sondas pelo mar escuro, em busca dos destroços do naufrágio, traduzem o ímpeto do homem de tentar decifrar o desconhecido, e indo até momentos singelos como os do retrato em pintura – em que o amor de Jack e Rose é imortalizado em um signo à base de aquarela -, tudo aqui desponta para o impulso humano de superar as leis de sua própria existência.
Daí surge o poder da relação lindamente representada por Leonardo Di Caprio – eternizado pela maneira como a sua ingenuidade sonhadora supera os limites de sua infeliz condição social – e Kate Winslet – que da melancolia acometida por um casamento arranjado trascende a uma contagiante felicidade ao viver o seu amor à flor da pele -, que em uma contradição de “castas” afastadas se convertem em uma força maior que qualquer código natural. Apesar do tamanho da envergadura do poderoso Titanic, quem verdadeiramente se impõe contra o mar acaba sendo o casal, que se transporta através do ar em seu grito icônico e destinado a perdurar muito além das estruturas sólidas ali inscritas para perecer.
Desse modo, é nesse último fator que o longa encontra outros de seus muitos méritos. A escala com a qual a destruição de Titanic – no momento em que cessa a arrogância do homem de superar o mundo através de seu feito arquitetônico – é retratada, com direito a inúmeros planos que destacam a infiltração da água, a abertura gradual de fissuras e a queda de grandes estruturas, iguala, em primeiro lugar, a insuficiência de todos ali reunidos. Desmantelando completamente as suas origens e domínios de status – ainda que ocorram claras injustiças no processo de evacuação de alguns possíveis sobreviventes -, todos ali são insignificantes perante à magnitude da natureza, que prova a inutilidade de todos aqueles deleites e prazeres passageiros.
Para além da clássica crítica ao materialismo – e ao qual seria injusto dizer que o filme em si também não se rende -, entretanto, fica claro como a direção conduz a maioridade da paixão entre Jack e Rose, que a esse desfecho conclui essa sinfonia dos delírios de riqueza e poder que se misturam aos impulsos mais primitivos do corpo em sua passagem para uma forma abstrata.
Assim como o sucesso bilionário da própria obra – e que às beiras de um relançamento promete atualizar mais uma vez o seu sucesso interminável, tão hábil na comunicação com algumas das paixões mais universais que trazemos conosco – é na finitude primária de Jack que o amor que o úne a sua amada se torna infinito, conforme demonstra o seu retornar, ao final – e ao início -, como uma narradora de idade avançada. Diferente do belo, e até nostálgico afundar, de seu colar azul, todavia, é nítido que o legado deixado por “Titanic“, e pela assinatura de seu magistral idealizador, irá perdurar por muitos mais anos por cima das águas do oceano Atlântico.