“ATÉ OS OSSOS” – Aparente empatia pelo aparentemente abjeto [46 MICSP]
* Aviso: esta crítica pode conter revelações sobre o encaminhamento da trama do filme.
É admirável a capacidade de Luca Guadagnino no trânsito entre gêneros cinematográficos em ATÉ OS OSSOS. Na sua filmografia, o longa estaria entre “Me chame pelo seu nome” e “Suspíria – a dança do medo” (clique aqui para ler a nossa crítica), com a adição de novos elementos. Um desses elementos é uma surpresa levemente indigesta: a aparente empatia pelo aparentemente abjeto.
Maren é abandonada por seu pai, que não aguenta mais apagar os rastros do canibalismo praticado por ela. Diante do desamparo, ela decide ir atrás da mãe, sobre quem o pai pouco falou e da qual não se recorda. Em sua busca, Maren descobre que não é a única com instintos canibais e que pode constituir laços muito diferentes com pessoas iguais a ela.
O roteiro de David Kajganich, assim como o livro de Camille DeAngelis, no qual se baseia, não é sobre canibalismo, mas sobre a inevitabilidade da existência. Maren e os outros canibais, chamados “devoradores”, são assim porque simplesmente não conseguem deixar de ser, havendo uma vontade inata de se alimentar de carne humana. É aqui que repousa a liberdade de ser, como no brado de Lee com a canção “Lick it up”. Inteligentemente, o texto, após estabelecer essa imposição de uma condição, a questiona, levando Maren a refletir: se alguém pode ser canibal por escolha ao invés de sujeição, por que ela não poderia deixar de se sujeitar a escolher não ser canibal? Há uma busca por libertação, sendo o amor, talvez, o caminho para ela, como diz um risonho Jake, interpretado por um deliciosamente assustador Michael Stuhlbarg.

As questões morais não são abandonadas pelo roteiro, pelo contrário, é um senso moral que gera a faísca da união entre Maren e Lee (a cena do mercado). Taylor Russell imprime em Maren, com encanto, uma constante insegurança e uma fragilidade que contrasta com a – e é complementada pela – autoconfiança de Lee, interpretado pelo sempre formidável Timothée Chalamet. O visual estilo hippie de Lee, com mechas avermelhadas no cabelo e calça jeans bastante rasgada, é oposto à candura dos vestidos de Maren, que ainda não se compreende completamente. Enquanto Chalamet explode cantando e dançando “Lick it up”, uma música por meio da qual Lee prega o carpe diem, Russell tem em Maren uma garota que se fecha em momentos mais introspectivos de aprendizado sobre si.
Maren, Lee e os outros são marginalizados e estão em constante fuga da sociedade, não uma fuga do eu. O distanciamento dos pais em relação à protagonista é expressado por narrações em voice over (por gravação e por carta), que deixam claro o quão abandonada ela está. Mais que isso, Maren está perdida, pois não tem sequer memórias de sua mãe, detectando uma necessidade incontrolável de encontrar suas origens, além de um apetite voraz por amadurecimento justamente em razão do abandono. Seria “Até os ossos” um coming of age? A resposta é afirmativa, mas a pergunta não encerra o brilhantismo do trabalho do diretor Luca Guadagnino, pois o cineasta italiano tem na obra um híbrido muito criativo.
O longa, desse modo, é um coming of age por retratar o amadurecimento de Maren, porém o seu formato é de road movie (e similar a “Bonnie e Clyde“). A parte de “Me chame pelo seu nome” é a do romance, que é desenvolvido em uma camada profunda: a opção é por evitar declarações explícitas melosas, mostrando Maren e Lee compartilhando suas vidas – o alimento, o tempo, a angústia, as experiências – e assim desenvolvendo o amor. Por sua vez, “Suspíria” se faz presente com um requintado suspense aliado a um body horror: mais que jump scares e pesadelos, o sangue, destacado na fotografia em que prevalecem tons azuis e pastéis, pode ser chocante para o público sensível. A música romântica na cena do carrossel não parece fazer parte do mesmo filme no qual, poucos minutos depois, há um conteúdo graficamente distante dessa doçura sonora. E é justamente essa a beleza do filme.
Guadagnino se apoia na expectativa e no estranhamento para os maiores impulsos em termos de emoção. No prólogo, a mudança de tom ocorre em um piscar de olhos. Na cena do hospital, a tensão visual transmitida pela mise en scène (câmera subjetiva simulando um olhar quase que por uma fresta) é um atropelo sem misericórdia. Sully, vivido por um esquisitíssimo Mark Rylance, é a materialização da repulsa: sua fala é ainda mais estranha por ser em terceira pessoa ao se referir a si mesmo, seu vestuário é uma contradição aparente (calça e camisa social com colete de caça ou pesca e chapéu) e seu olhar é aterrorizador.
Se Sully é repulsivo, por que outros canibais, nomeadamente Maren e Lee, podem acabar sendo vistos com alguma empatia pelo público? Dessa vez, a resposta está na metáfora do canibalismo, que se refere aos marginalizados e à imperfeição humana. Todas as personagens têm suas falhas (que algumas vezes fazem mal aos outros, porventura um mal irremediável), mas o arrependimento e a busca constante por melhora – quiçá através do amor – é o que as diferencia. Imperfeitos são (somos) todos; condenáveis, apenas aqueles que não querem melhorar a cada dia e que fingem não cometer mal nenhum.
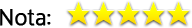
** Filme assistido durante a cobertura da 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

