“TRIÂNGULO DA TRISTEZA” – Engraçado, mas sombrio; delicioso, mas desesperançoso [46 MICSP]
Em 2019, “Parasita” (clique aqui para ler a nossa crítica) foi o filme vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Em 2022, foi agraciado TRIÂNGULO DA TRISTEZA. Em comum (além da premiação), os dois filmes tratam da desigualdade social de maneira alegórica. A diferença é que, enquanto o primeiro se filia ao suspense, o segundo é uma sátira mordaz e extremamente ácida nada sutil em sua abordagem.
Carl e Yaya são modelos e namoram há algum tempo. Depois de uma briga, decidem ir a um cruzeiro de luxo. O que era para ser um período romântico e tranquilo se torna uma experiência bizarra e sofrida.
O filme de Ruben Östlund tem somente três defeitos que merecem menção. O primeiro é o título, que pouco representa o significado do filme como um todo. O segundo é um monólogo do comandante do iate, que verbaliza críticas ao governo dos EUA que definitivamente não precisavam ser verbalizadas. O terceiro é o final, que é diminuto quando comparado ao caótico, hiperbólico e absurdo clímax. São, porém, defeitos minúsculos diante do quão maravilhosa é a sua obra.

No prólogo, há uma sátira ao vazio do mundo da moda. Rapazes descamisados sabem que é preciso beleza e capacidade de caminhar para serem modelos, mas são inaptos a demonstrar conteúdo em sua forma admirada. É um mundo de falsidade, com hashtags jogadas como migalhas a pombos e variações de expressões faciais, associadas a marcas, de maneira mecânica e irrefletida. Ainda assim, Carl ouve que a moda não é mais somente a aparência – ainda que ele precise estar sem camisa e caminhar para ser avaliado. Nos créditos, o jogar de tinta nos modelos serve de metáfora para uma ejaculação simbólica da beleza exterior que compreende o conteúdo como irrelevante. O discurso é, pois, hipócrita.
Na passarela, o público que acompanha o desfile parece uniformizado de preto e seu gozo é sobre um letreiro de falas de efeito sobre a qual não refletem. Harris Dickinson tem em Carl alguém diferente, alguém disposto a algum exercício reflexivo, o que causa um grande atrito com a vazia Yaya de Charlbi Dean. Pelas nuances de sua personagem, Dickinson atua melhor do que Dean, cuja superficialidade, todavia, de certa forma combina com a superficialidade da personagem. Se necessário, Yaya cria uma mentira e faz um escândalo para atingir seus objetivos. Quando discutem no carro, Östlund os filma em primeiro plano movimentando a câmera sem cortes, dando um toque de humor gráfico naquela discussão. No elevador de paredes azul bebê (tom similar à camisa de Carl), o rapaz explode em um grito por igualdade enquanto as portas do elevador insistem em se fechar, simbolizando um corte naquela vontade vã por igualdade. Depois, o casal conversa no quarto com paredes, cortinas e poltrona em tons pastéis que combinam com os termos mais brandos do diálogo: Yaya pode ser dissimulada, mas sabe bem sua condição.
Na segunda parte, o longa cresce muito e chega ao seu clímax – um clímax escatológico de absurdo paradoxalmente divertido e asqueroso. No iate, o supérfluo é essencial, como potes de Nutella. Paula, vivida por uma enérgica Vicki Berlin, orienta a tripulação sobre os dois pilares de seu trabalho: obediência e dinheiro. Um é resultado do outro representando o epítome da desigualdade. Yaya continua provocando Carl em um flerte dissimulado com um homem que é imageticamente o oposto de seu namorado (com longa barba e pelos no peito), situação que se inverte na terceira parte do longa. Na fase intermediária do filme, contudo, o casal perde um pouco de relevância e surgem figuras pateticamente hilárias.
Dimitry (Zlatko Buric) protagoniza um diálogo hilário com Thomas (Woody Harrelson) utilizando citações para debater sobre política; o casal britânico assume o ridículo ao falar sobre os “tempos difíceis” que viveram; Jarmo (Henrik Dorsin) é o caçador (aqui, em sentido não literal; na terceira parte, em sentido literal) cuja arma é esbanjar o dinheiro; a mulher da jacuzzi e a mulher da vela são a materialização do irrazoável e do irredutível de quem tem tanto dinheiro que não sabe o que fazer com ele. A sequência do jantar é brilhante pelo bom uso de plano holandês (e balançando, e balançando), pela ousadia em ser grotesco em dose cavalar e pela modificação precisa na trilha musical (“Egyptian Fantasy” e “Sonnerie de Ste. Geneviève du Mont-de-Paris” combinam com a pompa, tornando muito mais impactante o surgimento do rock de “New noise”). A absurdez atinge seu cume quando, mesmo no desespero, a bagagem é motivo de preocupação. É a ideia de desespero que leva à parte 3, que é mais clara e direta sobre as relações de poder. Dolly De Leon interpreta Abigail com ferocidade e como alguém que, melhor que todos os demais, compreende como funciona a precariedade.
O filme traça a ideia governante de que, independemente do tipo de relação (afetiva, laboral, social), a igualdade é uma utopia e sempre haverá uma linha que separa os que servem e os que são servidos. Existem aqueles que percebem essa linha e querem ao menos modificar seu funcionamento, mas sua atuação é meramente discursiva. Quem está no topo da cadeia da desigualdade não tem interesse em modificá-la simplesmente porque a maneira como ela funciona lhe é benéfica – e isso pode resultar na adoção de medidas extremas para manter o status quo. O dinheiro pode ser o regente dessas relações, mas, se não fosse ele, seria outro. “Triângulo da tristeza” pode fazer rir, é maravilhosamente sagaz e deliciosamente ácido. Entretanto, é um filme sombrio e desesperançoso sobre a podridão inerente à condição humana.
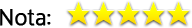
* Filme assistido durante a cobertura da 46ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Desde criança, era fascinado pela sétima arte e sonhava em ser escritor. Demorou, mas descobriu a possibilidade de unir o fascínio ao sonho.

